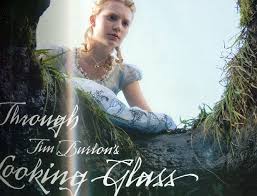Por: Marcio Pochmann (1)
“Não acredito nos economistas que dizem que a economia deve ser aplicada sem influência da política”.
Maria da Conceição Tavares.
Nas aplicações dos conhecimentos em áreas das humanidades como economia e direito sobrevive o dogma que não se deve permitir a influência da política na descoberta e no processo de aplicação do conhecimento.
Tratar o processo de pesquisa e da gestão da administração pública, aplicando o isolamento da política, é impossível, um fetiche que pouco contribui com o debate nacional e com o avanço da sociedade.
Separar a visão diante do fato social ou do objeto de pesquisa ou do ato da decisão de implantar a política pública: a política. Como o filosofo grego prelecionou na antiguidade “O ser humano é um animal político”.
Vejamos um exemplo prático da influencia da política no ato da decisão, de quem exerce o poder da administração pública é exemplificado através do orçamento da Prefeitura de São Paulo, destinado à Secretaria do Trabalho:
* ano 2004 (último ano da gestão Marta Suplicy do PT), teve empenhados R$ 190 milhões gastos na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento.
* ano de 2008 (gestão Kassab), o orçamento municipal previa R$ 137 milhões para a secretaria, mas menos de R$ 40 milhões foram gastos.
* ano de 2009, destinava R$ 127 milhões, depois atualizados para R$ 130 milhões. Mas até 15 de dezembro apenas R$ 28 milhões haviam sido liquidados.
* ano de 2010, a previsão para a Secretaria do Trabalho é de somente R$ 103 milhões, porém, se prevalecer o empenho de 25% do total será gasto pouco mais de R$ 25 milhões neste ano.
Tais dados comprovam que é a decisão da liderança política que elege prioridades e destina o gasto do recurso público para onde entende que será melhor para a sociedade.
No caso da gestão Marta Suplicy, significativa parte do uso dos recursos públicos foram destinados às políticas de geração de emprego e renda, nas regiões mais vulneráveis à pobreza.
O resultado desta decisão política alterou para melhor a vida de mais de 500 mil paulistanos, além de repercutir positivamente na vida social como no caso do bairro Capão Redondo, onde, a criação de um centro comercial mais dinâmico e gerador de empregos, foram determinantes para queda dos índices da violência desta região de São Paulo.
Certas lideranças políticas antes de tomar a decisão, olham para o ser humano. Já outras lideranças políticas olham para as pontes e corte do gasto do serviço público.
Na atualidade alguns economistas ainda defendem a crença de que o Estado não pode ser grande. Nem se pode gastar. A melhor decisão para suprir as demandas sociais e entregá-las para o mercado encontrar as soluções para as necessidades da sociedade.
Outra consagrada premissa: é que a economia nacional deve, primeiro, crescer para depois ser divida entre os membros da sociedade. A antiga formula: fazer o bolo crescer primeiro para depois dividi-lo.
Mas o que verificamos, na realidade, é que um governo fraco e sem capacidade de atuação é ruim para a sociedade. Ao se esperar o crescimento do bolo para promover a divisão das riquezas da sociedade sem a interferência da liderança política, não haverá num tempo próximo, o bom atendimento da administração pública diante das demandas sociais.
Mas o que verificamos, na realidade, é que um governo fraco e sem capacidade de atuação é ruim para a sociedade. Ao se esperar o crescimento do bolo para promover a divisão das riquezas da sociedade sem a interferência da liderança política, não haverá num tempo próximo, o bom atendimento da administração pública diante das demandas sociais.
No enfrentamento da crise financeira internacional o Brasil foi um dos países menos afetados, em razão das decisões de ordem política do presidente Lula, quando manteve a política do aumento do salário mínimo, aumento das vagas para o ingresso de pessoas nos programas assistenciais e a rapidez no reconhecimento do direito à aposentadoria, dentre outras decisões administrativo-políticas nas áreas tributárias e na administração dos bancos públicos e privados.
Um grande empresário quando decide levar adiante um novo empreendimento, considera e avalia a questão política. Ficar com a opinião isolada dos economistas, pode levar o empresário a sofrer. E, aí, surgir o mesmo sentimento gerado numa sociedade quando se menospreza a política e seus agentes: o arrependimento.